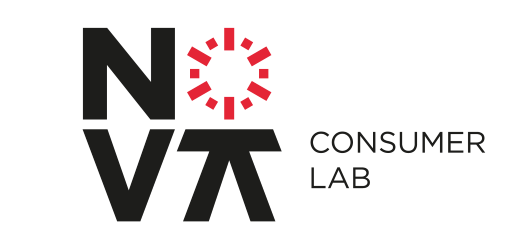Uma das questões que vem sendo dirimida com mais frequência nos centros de arbitragem de conflitos de consumo prende-se com a existência (ou não) do direito de o consumidor fazer cessar unilateralmente um contrato de prestação de serviços de comunicações eletrónicas, no decurso do período de fidelização convencionado com o profissional, fundamentando a desvinculação numa alteração das circunstâncias em que as partes basearam a decisão de contratar.
Os casos de alegada modificação da “base do negócio objetiva” reportam-se, essencialmente, a situações de alteração do local de residência do consumidor, existindo, contudo, registo de diferendos entre assinante e prestador de serviços de comunicações eletrónicas determinados por declaração de resolução do contrato (emitida pelo primeiro e com a qual o segundo não se conformou) fundada em situação de emigração ou de desemprego (ou quebra acentuada de rendimentos) do consumidor titular do contrato (ou do seu agregado familiar).
Nestes casos, revela-se pacífico que a possibilidade de o profissional prestar o serviço em determinada morada de instalação e o consumidor nele poder recebê-lo constitui uma condição determinante para a decisão de contratar das partes. E não raras vezes se verifica que a proposta apresentada pelo operador para modificação do contrato não se afigura a mais equilibrada no que tange aos interesses do assinante, sobretudo por força da diminuição qualitativa, de modo sensível, dos serviços a prestar pelo primeiro. Acresce que, nas situações de alteração do local de residência do consumidor, o facto de este, por um lado, continuar a pagar as prestações devidas por um serviço de que não vai usufruir (por continuar a ser fornecido na sua morada antiga) e, por outro lado, contratar serviços de comunicações eletrónicas para a sua nova residência (por nisso ter interesse e se tratar de um serviço público essencial – art. 1.º-2-d) da LSPE) determina uma situação de desequilíbrio entre o prejuízo causado na esfera jurídico-patrimonial do assinante e o lucro auferido pelo prestador, à custa daquele prejuízo[1].
Noutra perspetiva, a morada de prestação do serviço constitui um elemento essencial do contrato e, nessa medida, o profissional apenas se encontra adstrito a assegurar o cumprimento da sua obrigação principal com as características acordadas no concreto local estipulado no negócio celebrado com o consumidor, não podendo ser forçado a aceitar a alteração do contrato quanto à instalação de consumo[2], sobretudo quando o obstáculo que se colocou ao normal desenvolvimento do quadro contratual previsto surgiu por vontade do utente (e não por facto exterior à vontade das partes), não se revelando imprevisto e anómalo.
Não ignorando a assinalável litigiosidade em torno desta matéria, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no seu Anteprojeto de diploma de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas[3], gizou, nos arts. 132.º (Alteração da morada de instalação) e 133.º (Situação de desemprego ou emigração do titular do contrato), duas soluções normativas inovadoras, especificamente pensadas para as situações acima identificadas.
Assim, nos termos do art. 132.º do Anteprojeto, “[e]m caso de alteração do local de residência do consumidor, a empresa que oferece serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público (…) não lhe pode exigir o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização, caso não possa assegurar a prestação do serviço contratado ou de serviço equivalente, nomeadamente em termos de características e de preço, na nova morada (n.º 1), sendo que, para tais efeitos, “o consumidor comunica à empresa que oferece os serviços a alteração da respetiva morada com uma antecedência mínima de um mês, apresentando documentação que a comprove” (n.º 2), fixada pela ANACOM (n.º 3), isto sem prejuízo do “direito de a empresa cobrar os serviços prestados durante o período de pré-aviso” (n.º 4).
Já de acordo com o art. 133.º do Anteprojeto, “[e]m situações de emigração ou de desemprego do consumidor titular do contrato devidamente comprovadas, a empresa que oferece serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público (…) não lhe pode exigir o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização (n.º 1), podendo a ANACOM “determinar quais os elementos comprovativos que podem ser exigidos pelas empresas que oferecem serviços aos consumidores” (n.º 2). Esta solução normativa apresenta semelhanças com o disposto no art. 361.º-3-a) da Lei n.º 75-B/2020 (aqui já referido no blog), podendo representar uma sobrevigência de uma medida excecional e temporária para além do atual contexto de emergência de saúde pública provocado pela pandemia da doença COVID-19.
Ora, com base no anteprojeto preparado pela ANACOM (e noutros contributos recolhidos), em 9.4.2021, o Governo apresentou à Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 83/XIV/2.ª (PL), a qual, no que respeita à matéria de que aqui trato, acolheu, no essencial, a disciplina desenhada pela ANACOM para as situações de alteração do local de residência do consumidor (art. 132.º da PL). Porém, eliminou o art. 133.º constante do Anteprojeto, quedando-se por uma regra que pouco ou nada acrescenta (em face da prática dos tribunais): “[o] disposto nos artigos 131.º e 132.º não prejudica a aplicação dos regimes de resolução e de modificação do contrato por alteração das circunstâncias previstos no Código Civil” (art. 133.º da PL).
Acompanhando a apreciação efetuada pela Direção-Geral do Consumidor (DGC) em parecer sobre a PL, independentemente da bondade da solução, certo é que o art. 132.º da PL “vem sanar, de forma inequívoca, a questão, eliminando o espaço de discricionariedade existente, até ao momento, com eventuais ganhos em termos de segurança jurídica”, deixando de ser “os operadores a definir, numa primeira instância, se a mudança de residência constitui ou não uma alteração anormal das circunstâncias”. Sem embargo, diversamente do que se verificava no Anteprojeto, o PL surge desprovido de uma “norma estabelecendo o poder de a ARN determinar quais os elementos comprovativos que podem ser exigidos pelas empresas para efeitos de prova da alteração de morada”, o que, de acordo com a mesma lógica de preclusão da margem de discricionariedade, é merecedor de crítica. Acresce que, como nota a DGC, afigura-se «necessária a clarificação do que se entende por “serviço equivalente”», devendo ficar expresso em letra de lei que “serviço equivalente” é todo aquele que não importa “qualquer downgrade da tecnologia do serviço contratado, uma vez que, em qualquer tecnologia, este downgrade acarreta uma perda significativa da qualidade do serviço contratado”.
Já a supressão do art. 133.º do Anteprojeto deveria ser repensada, atenta a necessidade de intervenção legislativa para pacificação dos conflitos existentes entre assinantes e prestadores de serviços em casos de emigração ou de desemprego (ou quebra acentuada de rendimentos) do consumidor titular do contrato (ou do seu agregado familiar), ainda que, como reconhece a ANACOM com a sua nova proposta de redação para o artigo vertida em parecer sobre a PL (p. 207), a previsão normativa possa (e deva) ser mais “equilibrada, do ponto de vista da proteção dos legítimos interesses das empresas” e no quadro de uma disciplina jurídica dos contratos que encontra no princípio pacta sunt servanda (os contratos devem ser pontualmente cumpridos – art. 406.º do Código Civil) um dos seus princípios fundamentais.
[1] Dália Shashati, Períodos de Fidelização, Dissertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa, 2015, pp. 81-93.
[2] Flávia da Costa de Sá, Contratos de Prestação de Serviços de Comunicações Eletrónicas: A Suspensão do Serviço em Especial, Dissertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa, 2014, p. 45.
[3] O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas foi estabelecido pela Diretiva (UE) 2018/1972, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, tendo o Anteprojeto de diploma de transposição sido aprovado por Decisão de 31.07.2020, para envio à Assembleia da República e ao Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações.