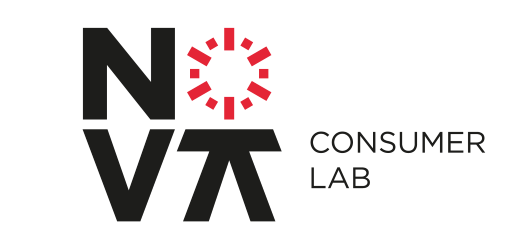No passado dia 12 de janeiro, o Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) proferiu o Acórdão D.V. contra M.A. (C-395/21) relativo a cláusulas contratuais abusivas e à Diretiva 93/13/CEE. Neste caso, trata-se de um serviço diferente: serviços jurídicos fornecidos por um advogado.
- Factos
Na base do litígio esteve a celebração de contratos de prestação de serviços jurídicos, nos quais vinham estipulados honorários de 100 euros por hora de serviço. Após a prestação dos mesmos, a advogada em causa intentou uma ação judicial no sentido de obter a condenação do consumidor ao pagamento de 9.900 euros a título de prestações jurídicas realizadas, e de um montante de 194,30 euros a título de despesas incorridas no âmbito da execução dos contratos, acrescidos de juros anuais que ascendiam a 5% das somas devidas.
Tendo chegado ao Supremo Tribunal da Lituânia, este questionou-se sobre o caráter abusivo da cláusula relativa aos honorários. A este respeito, esse órgão jurisdicional considerou que, embora a cláusula estivesse formulada claramente do ponto de vista gramatical, seria possível duvidar que fosse compreensível, uma vez que o consumidor médio não estaria em condições de compreender as suas consequências económicas.
Por um lado, a invalidação da cláusula relativa ao preço deve acarretar a nulidade dos contratos de prestação de serviços jurídicos e o restabelecimento da situação em que o consumidor se encontraria se essas cláusulas nunca tivessem existido. Ora, no caso em apreço, isso conduziria a um enriquecimento injustificado do consumidor e a uma situação injusta em relação ao profissional que forneceu integralmente esses serviços. Por outro, o tribunal interrogou-se sobre a questão de saber se uma eventual redução do custo das referidas prestações não prejudicaria o efeito dissuasor prosseguido pelo artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 93/13.
Neste seguimento, o Supremo Tribunal da Lituânia coloca as seguintes questões ao TJUE:
– Deve o art. 4.º(2) da Diretiva 93/13 ser interpretado no sentido de que a expressão “objeto principal do contrato” abrange uma cláusula como a do presente caso, relativa ao custo e à forma como este é calculado?
– Deve a referência no art. 4.º(2) da Diretiva 93/13 ao caráter claro e compreensível de uma cláusula contratual ser interpretada no sentido de que basta especificar na cláusula do contrato relativa ao custo o montante dos honorários por hora devidos ao advogado?
– Em caso de resposta negativa à segunda questão: deve a exigência de transparência ser interpretada no sentido de que abrange a obrigação de o advogado indicar o custo dos serviços cujos valores exatos podem ser claramente definidos e especificados antecipadamente, ou deve também ser especificado o custo indicativo dos serviços, caso seja impossível prever as ações específicas e os respetivos honorários, no momento da celebração do contrato, e indicar os riscos que podem conduzir a um aumento ou a uma diminuição do custo?
– Se a cláusula não estiver redigida de maneira clara e compreensível, deve apreciar-se se esta cláusula é abusiva na aceção do art. 3.º(1) ou, tendo em conta que essa cláusula abrange informação essencial do contrato, o simples facto de a cláusula relativa ao custo não ser transparente é suficiente para que seja considerada abusiva?
– O facto de, quando a cláusula tiver sido considerada abusiva, o contrato de prestação de serviços jurídicos não ser vinculativo, em conformidade com o 6.º(1) da Diretiva 93/13, significa que é necessário restabelecer a situação em que o consumidor se encontraria se a cláusula que foi considerada abusiva não existisse? O restabelecimento de tal situação significa que o consumidor não tem a obrigação de pagar pelos serviços já prestados?
– Caso a natureza de um contrato de prestação de serviços a título oneroso torne impossível o restabelecimento da situação em que o consumidor se encontraria se a cláusula que foi considerada abusiva não existisse (os serviços já foram prestados), a fixação da remuneração pelos serviços prestados pelo advogado é contrária ao objetivo do art. 7.º(1) da Diretiva 93/13?
- Primeira questão
Relativamente à primeira questão, o TJUE declarou que o art. 4.°(2) abrange uma cláusula de um contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre um advogado e um consumidor, independentemente de ter sido objeto de negociação individual ou não.
O TJUE baseia esta conclusão no facto da cláusula relativa ao preço ter por objeto a remuneração dos serviços jurídicos, estabelecida segundo um valor por hora. Tal cláusula, que determina a obrigação do mandante ao pagamento de honorários, faz parte das cláusulas que definem a própria essência da relação contratual, sendo esta relação precisamente caracterizada pela prestação remunerada de serviços jurídicos.
- Segunda e terceira questões
Relativamente às duas questões seguintes, o TJUE avaliou se uma cláusula como a do presente caso cumpre a exigência de redação clara e compreensível da Diretiva 93/13. O Tribunal concluiu que não, caso não tenham sido fornecidas ao consumidor informações que, antes da celebração do contrato, lhe permitissem tomar uma decisão prudente e com total conhecimento das consequências económicas do vínculo a assumir.
Com base numa interpretação ampla do conceito de transparência, de modo a garantir uma maior proteção ao consumidor, o Tribunal concluiu que é indispensável que as cláusulas do contrato sejam claras e compreensíveis, para que o consumidor possa estar consciente de todos os detalhes envolvidos e, dessa forma, possa tomar uma decisão informada e bem fundamentada sobre a contratação dos serviços.
Para o garantir, o profissional está incumbindo de três deveres. Em primeiro lugar, deve fornecer ao consumidor todas as informações relevantes antes da celebração do contrato. Além disso, o Tribunal recomendou que o profissional preste ao consumidor uma orientação adequada sobre os direitos e deveres de ambas as partes, para que este possa compreender totalmente o contrato. Por fim, o Tribunal concluiu que o profissional deve informar o consumidor sobre todos os custos adicionais que possam surgir ao longo do contrato.
Aplicando este raciocínio ao caso concreto, o TJUE concluiu que a fixação do preço do serviço jurídico por hora não permite ao consumidor médio, na falta de qualquer outra informação fornecida pelo profissional, saber o montante total a pagar pelos serviços. Muito embora a natureza dos serviços jurídicos não permita facilmente determinar o número de horas necessárias à sua conclusão, o TJUE afirmou que o profissional, no momento da celebração do contrato, tem de prestar as informações de que dispõe ao consumidor.
Nesse sentido, deve fornecer-lhe as informações necessárias para que possa tomar uma decisão informada, nomeadamente no que respeita à duração (e custo) aproximado da prestação de serviços jurídicos em causa, tendo em consideração as regras profissionais e deontológicas aplicáveis. O TJUE dá como exemplos uma estimativa do número previsível ou mínimo de horas necessárias para prestar o serviço ou o compromisso de envio regular de faturas ou relatórios que indiquem o número de horas de trabalho prestadas.
- Quarta questão
Passando à quarta questão, o TJUE afirmou que o art. 3.º(1) deve ser interpretado no sentido de que uma cláusula como a do presente caso não deve ser considerada abusiva pelo simples facto de não respeitar o critério da transparência do art. 3.º(2), exceto se a legislação nacional impuser que essa qualificação derive unicamente desse facto.
A Diretiva 93/13 estabelece que a falta de transparência de uma cláusula deve ser considerada como um dos principais critérios na avaliação do caráter abusivo de uma cláusula, pelo que a decisão sobre o caráter abusivo deve ser feita tendo em conta outros elementos. Não obstante, os Estados-Membros têm a possibilidade de optar por um nível de proteção mais exigente, nomeadamente – como no caso Lituano – considerando cláusulas contrárias à exigência de transparência como abusivas per se.
- Quinta e sexta questões
Aqui, o Tribunal decidiu que a Diretiva não se opõe a que, derivado da aplicação de Direito interno e caso o contrato não possa subsistir devido ao caráter abusivo da cláusula do preço, o profissional não receba nenhuma remuneração pelos serviços prestados. Da mesma forma, a Diretiva não se opõe a que haja a substituição da cláusula por uma disposição de direito nacional de caráter supletivo, em situações nas quais o consumidor seria colocado numa situação prejudicial caso se desse a invalidação total do contrato.
Não obstante, esta possibilidade só poderá ser aplicada em circunstâncias limitadas. Só no caso de a invalidade da cláusula implicar a invalidação total do contrato e esse facto expuser o consumidor a consequências prejudiciais é que o órgão jurisdicional nacional dispõe da possibilidade excecional de substituir uma cláusula abusiva anulada por uma disposição nacional de caráter supletivo, ou aplicável por acordo das partes. De igual forma, a disposição em causa tem de ser destinada a uma aplicação a contratos celebrados entre um profissional e um consumidor, portanto sem um alcance de tal modo geral, que a sua aplicação equivalha a permitir ao juiz nacional fixar com base na sua própria estimativa a remuneração devida pelos serviços prestados.
- Comentário
Dos tópicos levantados, o que cabe destacar como particularmente interessante é a possibilidade de um advogado ver o seu serviço não compensado face ao caráter abusivo das cláusulas que insere nos seus contratos. Aqui, o TJUE concluiu com relativa facilidade que essa possibilidade existe, prevendo outras hipóteses apenas se a invalidação total do contrato implicar um agravamento da situação do consumidor, verificando-se assim uma total preponderância da proteção do consumidor face ao profissional.
Isto é reforçado pela opinião do AG, ao afirmar que a Diretiva 93/13 não exige um “resgate” do profissional face à resolução do contrato. Afirma igualmente que as consequências que o direito interno prevê para a nulidade do contrato não podem ser tais que prejudiquem o efeito útil da Diretiva 93/13, ou seja, a proteção dos consumidores. De igual forma, a Diretiva não prevê a necessidade de se conceder aos profissionais proteção face à eventual nulidade de contratos nos quais inseriram cláusulas abusivas, mesmo que os serviços já estejam prestados e não seja possível haver uma “devolução” dos mesmos. Por isto, a possibilidade de “remendar” contratos com cláusulas abusivas é limitada, já que, caso contrário, a hipótese de haver essa substituição pelos tribunais colocaria em causa o efeito dissuasor prosseguido pela Diretiva. Só em casos em que a nulidade total do contrato traria ao consumidor consequências particularmente prejudiciais é que se poderia proceder a essa substituição.
Por isso, vemos que uma das profissões encarregues de aplicar a lei está igualmente sujeita a uma correta aplicação das normas de proteção dos consumidores, que, caso não sejam respeitadas, podem levar a fortes riscos que juristas, advogados e outros profissionais do Direito deveriam estar aptos a evitar. Assim sendo, os advogados, tal como outros profissionais análogos, devem respeitar os deveres de transparência, informando devidamente os consumidores sobre os custos que os seus serviços acarretam.