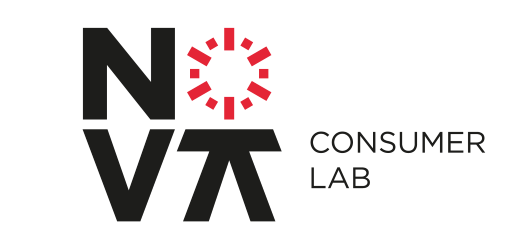No último trimestre de 2021 foi publicado o Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, que veio transpor para a Ordem Jurídica Portuguesa a Diretiva (EU) 770/2021 e a Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativas a contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais e contratos de compra e venda de bens, respetivamente.
Além do seu propósito de modernizar a legislação de Direito do Consumo e fazer refletir a realidade digital que atualmente faz parte da nossa vida, estas novas normas procuram também promover a sustentabilidade, como aliás é percetível em prorrogativas como a do artigo 21.º do referido Decreto-Lei, que prevê o dever de o produtor disponibilizar peças sobresselentes durante um prazo de 10 anos após a colocação da última unidade do bem em mercado, procurando prolongar a vida dos bens e evitando a sua substituição desnecessária.
É inegável que todo o processo de industrialização, assim como a adoção das novas tecnologias de produção em massa, tem impulsionado o desenvolvimento económico e sido absolutamente fundamentais para a melhoria da qualidade de vida de todos os que temos a sorte de poder aproveitar os resultados desta produção de bens.
Não obstante, é inevitável reconhecer que esses avanços têm tido um impacto significativo no meio ambiente, em particular para a nossa análise, nos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. O Parlamento Europeu divulgou que se reciclam menos de 40% dos resíduos deste tipo de equipamentos, evidenciando um atraso notório na reciclagem em relação à produção.
Nesse sentido, tornou-se essencial implementar medidas que prevejam e promovam a sustentabilidade em todos os setores da economia, incluindo no setor dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Este processo implica não só a busca por processos de produção mais eficientes e ecologicamente responsáveis, como também a redução do desperdício através da adoção de práticas que visem a reparação de bens de forma a conservá-los durante mais tempo, evitar a sua substituição desnecessária e, consequentemente, conservar o nosso planeta para as futuras gerações.
A interseção entre a industrialização e a sustentabilidade é fundamental para garantir um equilíbrio entre o progresso económico e a preservação ambiental.
Neste contexto, as empresas começam a pôr em prática a venda de kits de reparação em self-service, que consistem na venda ou aluguer de ferramentas e de peças específicas para que os consumidores possam, com a ajuda das instruções, também disponibilizadas, reparar os seus equipamentos eletrónicos em casa.
A Apple e a Samsung já disponibilizam estes kits de reparação em vários países da Europa, incluindo Espanha, pelo que se pode esperar que possa ser uma realidade em breve no nosso país.
Em primeiro lugar, importa distinguir esta realidade quando aplicada durante o período de responsabilidade do profissional (anteriormente conhecido como “garantia”) – três anos – ou num período posterior. Isto ocorre porque, do ponto de vista do comportamento do consumidor, a sua disponibilidade para aderir a este processo de reparação self-service pode variar consoante se encontre dentro ou fora do período de responsabilidade do profissional, no limite, mostrando mais ou menos resistência a estas novas soluções.
Durante os primeiros três anos, os consumidores podem sempre solicitar ao profissional a reparação dos seus equipamentos eletrónicos, pelo que não deverão tender a optar por adquirir, durante esse período, um kit de reparação self-service e correr o risco de abrir o equipamento e não conseguir reparar ou cometer algum erro e danificar ainda mais o seu equipamento eletrónico.
Esse risco existe porque, embora a garantia associada aos kit de reparação self-service seja sempre adicional em relação à garantia legal originária durante o período de responsabilidade do profissional, as empresas que venderam os bens podem não querer assumir a responsabilidade por erros que os consumidores possam cometer durante a reparação self-service, se não estiverem diretamente relacionadas com aspetos sob o controlo desses profissionais, por exemplo, defeitos nas ferramentas ou instruções deficientes ou insuficientes. Note-se que embora os kits de reparação self-service possuam uma garantia própria, esta deverá apenas incluir a sua conformidade e não o ato ou as consequências da reparação em si.
Os kits de reparação self-service serão, assim, uma solução mais atrativa para a fase da vida dos equipamentos eletrónicos após o término do período de responsabilidade do profissional. Isto ocorre porque, a partir desse momento, as reparações dos equipamentos já correm por conta dos consumidores e são frequentemente dispendiosas, levando muitas vezes os consumidores a pensar em “comprar um novo” em vez de reparar.
Agora, caso os kits de reparação self-service sejam vendidos por valores razoáveis, podem representar uma excelente alternativa, tanto para os consumidores, como para as empresas que valorizam a manutenção de clientela e os valores de sustentabilidade.
Em suma, tudo evidencia que Portugal pode em breve estar no radar destas empresas multinacionais de tecnologia e é positivo considerar estas opções de reparação para não só otimizar a vida nos nossos equipamentos eletrónicos, como também fomentar a consciencialização ecológica e sustentável que deve pautar os nossos comportamentos enquanto consumidores atentos e cautelosos.