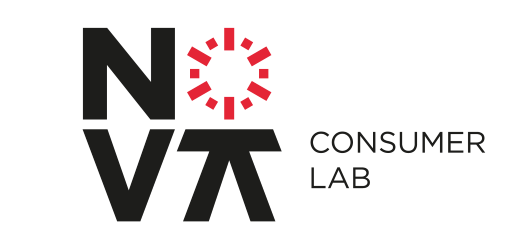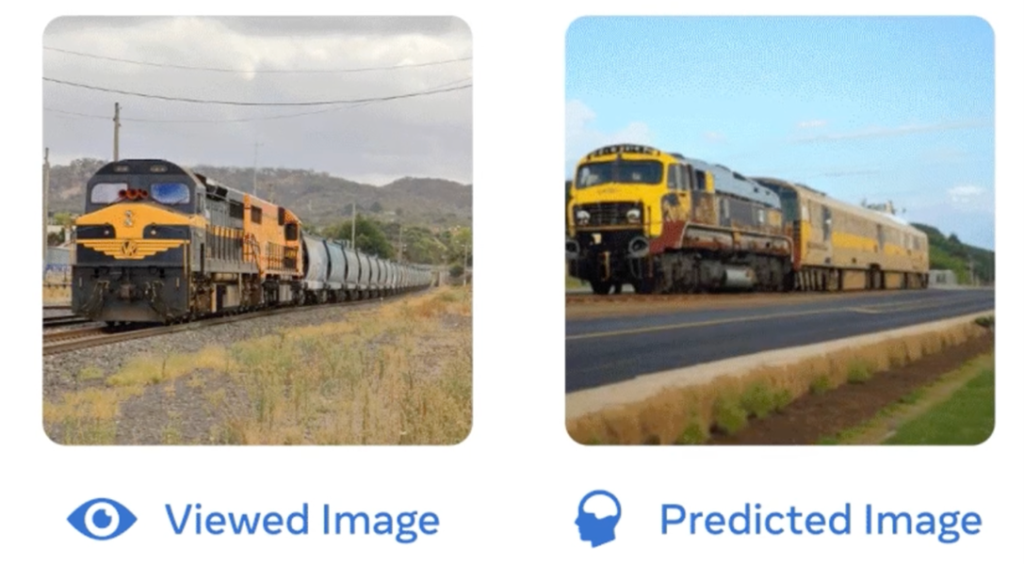No seguimento do texto anterior deste blog (“Que política para o Direito de Consumo Europeu no futuro? O novo foco na competitividade europeia”), pretendemos agora analisar, muito sucintamente, que expetativas podemos ter para a proposta do Digital Fairness Act (DFA), com base em tudo o que se sabe sobre este futuro procedimento legislativo europeu, em especial com o foco nos resultados e recomendações do Digital Fairness Fitness Check.
Esta análise é particularmente importante pois, quando consideramos os compromissos políticos dos comissários ao Parlamento Europeu, em especial da Vice-Presidente Henna Virkkunen e de Michael McGrath, Comissário para Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção dos Consumidores, e os planos públicos da Comissão para 2025 no seu work programme, a proposta do DFA deverá ser a principal medida legislativa prevista em matéria de Direito do Consumo para os primeiros anos do mandato. Outra iniciativa, o “Digital package”, também será relevante, mas o seu objetivo será essencialmente de simplificação da legislação digital, como o RGPD, Data Act, Data Governance Act, etc..
Este texto pretende então sumária e criticamente analisar: 1) as principais recomendações dos dois documentos que serão fundacionais ao DFA: a resolução do Parlamento Europeu sobre addictive design online de 2023 e o Digital Fairness Fitness Check de 2024; 2) qual a timeline esperada para a proposta do DFA; 3) o que é que podemos esperar da proposta do DFA.
A resolução do Parlamento Europeu sobre conceção de serviços online para criar dependência dos consumidores (addictive design)
É inegável que o debate sobre a necessidade do DFA surgiu da publicação do Digital Fairness Fitness Checkem outubro de 2024, tendo a nova Comissão Von der Leyen incorporado então essa bandeira nos seus compromissos políticos.
Ainda assim, é necessário salientar que o debate público nas instituições europeias sobre os temas do DFA já tinha sido aberto pela Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de dezembro de 2023, sobre conceção dos serviços em linha de forma a criar dependência e proteção dos consumidores no mercado único da UE (2023/2043(INI)).
Nesta resolução, o Parlamento Europeu recomenda à Comissão que tome medidas legislativas e políticas para combater práticas de conceção de serviços digitais que tenham como objetivo criar dependência nesses serviços (o addictive design), devido aos danos que podem causar à saúde física e mental dos consumidores, especialmente de menores. O Parlamento pediu que se proíbam as práticas mais nocivas, que se promova a conceção ética e que se garanta a transparência, a escolha e a autonomia dos utilizadores, bem como a proteção dos consumidores mais vulneráveis.
Como exemplos de práticas digitais consideradas viciantes, a resolução refere o deslizar da página/feeds sem fim (infinite scroll),[1] a recarga de páginas (pull to refresh), as funcionalidades de vídeo de reprodução automática (never-ending autoplay), as recomendações personalizadas, as notificações de recuperação (recapture notifications), o jogo por marcação (playing by appointment) em determinados momentos do dia, o design de serviços que causa ‘time fog’ (perda da noção de passagem do tempo) e as notificações sociais falsas, assim como medidas que se aproveitem das vulnerabilidades psicológicas dos consumidores.
A resolução aponta como “alvos” de intervenção legislativa a Diretiva Práticas Comerciais Desleais (DPCD), a Diretiva Direitos dos Consumidores (DDC) e a Diretiva das Cláusulas Abusivas (DCA), que devem ser revistas para abordar estas práticas, referindo ainda o Regulamento dos Serviços Digitais (Digital Services Act, DSA, em especial quanto aos artigos 25.º (“Conceção e organização da interface em linha”) e 35.º (“Atenuação de riscos”), e o Regulamento da Inteligência Artificial (AI Act).
Esta resolução, aprovada por uma esmagadora maioria[2], teve como rapporteur Kim van Sparrentak, do grupo parlamentar Greens/EFA. Posteriormente, Kim van Sparrentak foi uma das eurodeputadas que mais questionou o Comissário McGrath na sua audição de confirmação no PE sobre a sua visão para o DFA. Tem sido apontada como possível futura shadow rapporteur para o DFA, mantendo-se bastante ativa nos debates relativos a Direito do Consumo e ao DFA.[3]
As conclusões do Digital Fairness Fitness Check
O Digital Fairness Fitness Check por si só, considerando apenas a sua dimensão (parte 1 com 350 págs., parte 2 com 78 págs. focado na Diretiva Omnibus, e os anexos de Use Cases com 428 págs.), mereceria vários textos neste blog. Para o presente, vamos apenas abordar muito sumariamente os principais resultados e recomendações.
Este estudo foi uma avaliação abrangente do Direito do Consumo Europeu, focada na equidade (fairness) digital, com o objetivo principal de determinar se as Diretivas core (DPCD, DDC e DCA) são adequadas para proteger os consumidores no ambiente digital, em especial considerando as alterações que já tinham recebido pela Diretiva Omnibus de Modernização do Direito Consumo (2019/2161).
O estudo focou-se numa seleção de práticas consideradas problemáticas em ambientes digitais (dark patterns, práticas agressivas, subscrições difíceis de cancelar, publicidade personalizada, preços personalizados, comércio social e marketing de influenciadores e vício digital), avaliando a eficácia, eficiência, aplicabilidade e coerência das diretivas de consumo para lhes dar resposta, assim como a sua coerência (overlaps e blind-spots, lacunas legais) com a restante legislação digital europeia, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o DSA, o Regulamento dos Mercados Digitais (DMA) e o AI Act.
O estudo identificou desafios significativos para a aplicabilidade destas normas de Direito do Consumo Europeu. A rápida evolução dos mercados de serviços digitais, juntamente com o surgimento de novas práticas comerciais, tem criado lacunas legais e incertezas regulatórias. Os princípios gerais das diretivas (nomeadamente da DPCD e DCA), embora flexíveis e adaptáveis, são dificilmente aplicáveis nos novos casos concretos, existindo muita incerteza jurídica para consumidores, empresas e autoridades mesmo quando sinalizados pelas comunicações da Comissão (como nas Orientações de Interpretação da DPCD). Devido a esta incerteza e a dificuldades no enforcement, práticas que estão teoricamente abrangidas (como dark patterns, armadilhas de subscrição e publicidade oculta) persistem, existindo a necessidade de normas mais específicas que, por exemplo, explicitamente proíbam dark patterns. Os anexos da DPCD e DCA devem assim ser modernizados.
Foram identificadas diversas lacunas legais e falhas de coerência entre os diplomas, especialmente com o RGPD e o DSA. O papel dos dados pessoais na economia digital e a personalização de serviços e do preço ainda não estão suficientemente concretizados na legislação de consumo. Várias das obrigações aplicáveis a plataformas em linha pelo DSA deveriam também aplicar-se a outros profissionais.
O principal entrave à aplicabilidade da DPCD, o conceito do consumidor médio (“average consumer”), assim como o de consumidor vulnerável, tem de ser revisto e novas definições incluídas, para incorporar as noções de vulnerabilidade digital e de vulnerabilidades situacionais. Estes novos conceitos são necessários pois a hiperpersonalização de serviços digitais baseada em perfis tem um impacto notório que já não se limita apenas aos grupos tipicamente considerados vulneráveis (em função da idade, doença mental ou física e credulidade).
Devem ser introduzidas normas específicas para os contratos digitais, para combater práticas específicas deste domínio, por exemplo quanto aos free-trials, subscription trap, botões para cancelamento, etc.
O relatório recomenda ainda que as normas sobre deveres de informação e transparência sejam melhoradas, atendendo aos overlaps entre diretivas e aos riscos de excesso de informação (“information overload”). O valor opaco das moedas virtuais nos videojogos é especialmente visado, devendo passar a ser acompanhados do seu valor real (que entretanto a Comissão e a Rede de Autoridades de Consumo já começaram a adotar), e as loot-boxes também devem ter normas específicas. A personalização dos preços (como é que foram calculados) e dos serviços e o marketing de influencers online são também abordados.
O relatório recomenda também a inversão do ónus da prova face a tecnologias opacas e algoritmos e o reforço da proteção e dos direitos dos menores pelo Direito do Consumo Europeu, com a incorporação da proibição de uso de dados pessoais destes para publicidade personalizada (não apenas pelas plataformas em linha como já contemplado pelo DSA) e do princípio de conceção adequada à idade (“age-appropriate design”) dos serviços digitais.
Finalmente, o relatório inclui uma série de recomendações para reforçar o enforcement e a cooperação pelas autoridades nacionais, assim como o seu papel ativo no mercado.
Depois de muita antecipação, a publicação deste este relatório em outubro de 2024 foi um marco que salientou a necessidade de revisão do Direito do Consumo Europeu.
Qual a timeline para a proposta do Digital Fairness Act (DFA)?
Além das declarações do Comissário McGrath na sua audição no Parlamento Europeu (em novembro 2024) e no World Economic Forum em Davos (final de janeiro 2025), Maria-Myrto Kanellopoulou, a Chefe de Unidade em matéria de Direito do Consumo, na Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores da Comissão Europeia (Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST)), afirmou numa audição no Parlamento Europeu promovida pelo Partido Popular Europeu (PPE) sobre a proteção de menores online, que a proposta do DFA não deverá estar pronta antes de 2026, devendo ser apresentada no início desse ano. Em março, num evento em Washington DC sobre o futuro da cooperação transatlântica entre a UE e os EUA, McGrath forneceu mais pormenores e apontou que a proposta do DFA deveria ocorrer a meio de 2026.
Considerando as Better Regulation Guidelines de 2021 e a Better Regulation Toolbox de 2023 da Comissão Europeia e o Acordo Interinstitucional entre as instituições europeias Legislar Melhor de 2016, ainda antes de a proposta do DFA ser publicada, deverá ainda ser aberta uma consulta pública no portal “Have your say”, que terá de ficar aberta durante um período de 12 semanas.
A timeline para a proposta do DFA fica assim um pouco mais clara. Se o objetivo for a sua apresentação até ao final da primeira metade de 2026, é possível que ocorra uma consulta pública sobre o DFA entre o segundo e o terceiro trimestres de 2025. A análise de impacto que acompanha a proposta legislativa deverá ser realizada também nesta janela temporal. O tema deverá ainda ser discutido e trabalhado no European Consumer Summit, previsto para o final de maio. Finalmente, no final do ano, o Consumer Policy Advisory Group (CPAG) irá analisar os resultados recolhidos para considerar na preparação final da proposta. Esta timeline parece consistente com as declarações de Maria-Myrto Kanellopoulou, e tem sido avançada por várias fontes. Porém… além de não ter sido explicitamente e firmemente prevista, nem colocada por escrito no work programme de 2025 (embora exista a justificação de que é uma proposta para 2026, ao contrário da 2030 Consumer Agenda), há sinais de algumas reticências dentro da Comissão (e mesmo no Parlamento Europeu), que podem levar ao atraso da proposta.
Então, o que é que devemos esperar da proposta do Digital Fairness Act?
Em primeiro lugar, é necessário relembrar o novo foco da Comissão Europeia na competitividade da economia da União Europeia. Neste prisma, medidas como um DFA muito “forte” podem ser consideradas contraproducentes, por criarem ou exacerbarem custos para os operadores económicos e/ou forçarem alterações nos seus modelos de negócios que levem a perdas de receitas. É ainda mais um diploma a considerar, quando o mote atual é “simplificar”. Estas preocupações têm sido apontadas como motivos para os adiamentos da proposta do DFA, podendo também ter o efeito de que as suas medidas fiquem aquém do esperado e/ou que a proposta não saia da gaveta, como alguns defendem.
Em segundo lugar, temos de considerar as propostas de atuação da resolução do PE e do Fitness Check. Ambos os documentos tecem recomendações que visam diplomas existentes, nomeadamente as diretivas de consumo e a sua relação com o DSA, o RGPD e o AI Act.
Quando consideramos estes dois fatores, podemos descartar o cenário de que o DFA seja um novo diploma radical que irá revogar diplomas antigos em bloco e substituí-los por um novo diploma paradigmático que vem revolucionar o Direito do Consumo Europeu. O objetivo é simplificar e apenas corrigir/modernizar os conceitos e normas existentes.
Aliás, quando consideramos todos estes fatores, também podemos considerar o seguinte: o cenário mais provável é que o Digital Fairness Act acabe por não ser um “Act”, ou seja, um regulamento europeu.
A abordagem mais provável é que o DFA seja ou um pacote legislativo ou um diploma semelhante à Diretiva Omnibus, contendo alterações (mais ou menos cirúrgicas) a outros diplomas existentes, nomeadamente às 3 diretivas core de consumo (DPCD, DDC e DCA) e possivelmente ao DSA.
Este método tem sido defendido por vários atores políticos. A nuance entra na extensão da intervenção. O DFA deve ser só um “patch” que corrige “bugs” singulares na legislação existente ou deve ir mais além na sua intervenção?
O Professor Christoph Busch (aqui, aqui), após ter participado na reunião do Consumer Policy Advisory Group da Comissão, onde apresentou o relatório do CERRE (“Shaping the Future of European Consumer Protection: Towards A Digital Fairness Act?”), alertou para estas preocupações e tem defendido que o DFA deve ser um regulamento europeu (e não uma diretiva), que altere as diretivas de consumo: a) adicionando novas práticas comerciais ao anexo I da DPCD e cláusulas absolutamente proibidas à DCA, b) estabelecendo normas de antievasão (“anti-circumvention rule”) das proibições (como no artigo 13 do Digital Markets Act), c) torne obrigatórias medidas que facilitem a automação da fiscalização e supervisão pelas autoridades, d) simplifique os deveres de informação, e) estabelecendo um princípio de conceção (“by design”), pois, para proteger eficazmente os consumidores no ambiente digital, não é suficiente consagrar os direitos dos consumidores na legislação e informá-los dos seus direitos, é necessário que estes consigam facilmente exercer os seus direitos, por exemplo, através das interfaces do serviço do profissional (exemplo: botões de cancelamento). Estas medidas parecem bastante interessantes, mas é muito incerto se estão a ser bem acolhidas pela Comissão.
A BEUC também tem avançado com várias recomendações para o DFA, em especial na proteção de menores online, com o seu position paper (“Better Safe than Sorry”).
Por enquanto, a Comissão mantém-se muito vaga neste tema, não abrindo o jogo nem sobre o formato do DFA nem sobre o seu conteúdo. Recentemente, no European Retail Innovation Summit, o Comissário McGrath voltou a pronunciar-se sobre o DFA, assegurando que o diploma seria tanto pró-consumidores como pró-empresas, que não pretende criar mais entraves administrativos às empresas, que pretende abordar as práticas manipulativas e viciantes. Marketing por influencers, preços personalizados, moedas virtuais em videojogos mantêm-se na mira da Comissão.
Conclusões e uma ideia para reflexão – Atos delegados para editar as blacklists das práticas e cláusulas proibidas
Como referido, a consulta pública para preparar a proposta do DFA deverá ser publicada nas próximas semanas. Por agora, ainda sabemos muito pouco sobre os conteúdos e medidas que a proposta pode conter, tendo apenas acesso a algumas “pistas” sobre a forma do diploma. As recomendações que têm sido feitas, seja pelo Parlamento, no Fitness Check, por associações ou por académicos são apenas isso, recomendações, que podem sempre ser acolhidas, rejeitadas, modificadas e ou ignoradas.
Até termos mais informações concretas estamos, portanto, no terreno da especulação.
Assumindo esta realidade, podemos olhar criticamente para as medidas que estão a ser propostas.
Neste sentido, damos destaque a uma recomendação, particularmente inventiva e potencialmente controversa, para resolver o problema da morosidade e complexidade dos procedimentos legislativos europeus face à evolução das práticas no mercado e evolução tecnológica: o DFA alterar a DPCD e DCA para incluírem artigos que permitam à Comissão Europeia, por atos delegados, “editar” as blacklists nos anexos, de forma a acrescentar novas práticas comerciais desleais/cláusulas contratuais absolutamente proibidas.
Este tipo de delegação de poderes, previsto nos Tratados e amplamente utilizado em diversas áreas, como na fixação de requisitos de sustentabilidade (Ecodesign) para diferentes gamas de produtos e no AI Act (para a Comissão alterar os critérios de classificação de sistemas de IA de alto risco e a lista do anexo III, entre vários exemplos), poderia ser uma forma eficaz de permitir que a Comissão fosse colmatando a lista de práticas comerciais absolutamente proibidas com diferentes dark patterns, à medida que fosse recolhendo evidências científicas da sua nocividade, mantendo o PE e o Conselho a prerrogativa de se oporem, formulando objeções.
A maleabilidade destes anexos pode reduzir a segurança jurídica dos operadores económicos, mas pode contribuir para reduzir a fragmentação regulatória entre Estados Membros, especialmente quanto à DCA. No plano nacional, mesmo com atrasos na transposição, o efeito conforme poderia contribuir para uma melhor atuação de todos os stakeholders.
Existe um outro obstáculo bastante mais difícil de transpor: não é exatamente claro se este tipo de delegação de poderes é válida à luz do artigo 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Os atos delegados são atos não legislativos de alcance geral que só podem completar ou alterar elementos não essenciais do ato legislativo.
Enfim, é apenas (mais) uma ideia a considerar.
[1] Os sistemas de recomendação de várias plataformas já estão a ser investigados à luz do DSA pela Comissão. https://www.euronews.com/next/2024/10/02/tiktok-youtube-snapchats-video-recommendations-probed-by-eu-commission, Commission addresses additional investigatory measures to X in the ongoing proceedings under the Digital Services Act | Shaping Europe’s digital future
[2] 545 votos a favor, 12 contra e 61 abstenções.
[3] Como se viu no debate do EU Consumers Day no plenário do PE a 12 de março.