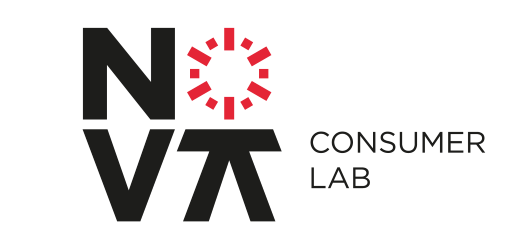Com a entrada em vigor da Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro (Lei RAL), que transpôs a Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, os regulamentos dos centros de arbitragem de conflitos de consumo harmonizaram-se entre si, apresentando sistematização e disciplina normativa idênticas, embora subsistam algumas dissemelhanças pontuais.
Neste contexto e com base na nossa experiência como árbitro em centros de arbitragem de conflitos de consumo, desenvolvemos, agora e em próximo texto, uma breve análise crítica de algumas disposições do Regulamento Harmonizado, tomando essencialmente por base o Regulamento do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral.
Desde logo, a redação atual do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Harmonizado, cuja epígrafe é “Competência material”, não acolhe plenamente a conceção estrita de consumidor – e, por essa via, de litígio de consumo – adotada na norma da alínea d) do artigo 3.º da Lei RAL, diploma que regula, em especial, os mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo. Assim, para efeitos da submissão de um conflito aos procedimentos de mediação, conciliação e arbitragem (artigo 3.º, alínea j) da Lei RAL), devia adotar-se o sentido jurídico-formal do conceito de consumidor, que se restringe às pessoas físicas, tal como imposto por um princípio de interpretação conforme ao Direito Europeu do Consumo, e deixar de tomar como referencial a noção ampla plasmada na Lei de Defesa do Consumidor – a Lei n.º 24/96, de 31 de julho.
Ainda a respeito do âmbito material de competência dos centros de arbitragem (e, em particular, da jurisdição do tribunal arbitral), a norma do n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento Harmonizado – “[o] Centro não pode aceitar nem decidir litígios em que estejam indiciados delitos de natureza criminal ou que estejam excluídos do âmbito de aplicação da Lei RAL” – suscita-nos duas observações que vêm revestindo importância no (não) conhecimento e apreciação de relações jurídico-consumerísticas controvertidas por aquelas entidades de RAL (artigo 3.º, alínea b) da Lei RAL).
Por um lado, afigura-se-nos imperioso clarificar que a norma visa excluir a competência dos centros de arbitragem apenas no que à matéria penal diz respeito. O facto de o litígio configurado pelo reclamante apresentar elementos indiciadores da prática de qualquer delito criminal (e.g. furto de energia elétrica, em ações de simples apreciação negativa em que é demandado o operador da rede de distribuição, ou burla, em ações em que é demandado prestador de serviço de comunicações eletrónicas) não deve obstar à qualificação da demanda como “litígio de consumo”, se preenchidos os quatro elementos – subjetivo, objetivo, teleológico e relacional – a partir dos quais é estruturado o conceito técnico-jurídico de consumidor. Impõe-se, de modo diverso, a distinção (e separação, para efeitos jurídico-processuais) da questão de natureza jurídico-civil suscitada pelo demandante perante a entidade de RAL da eventual relevância e ressonância jurídico-criminal que a alegada conduta por aquele perpetrada pode assumir.
Por outro lado, a fim de se viabilizar a inclusão de litígios relacionados com os serviços de saúde, quando prestados por entidades privadas, na esfera de competência dos centros de arbitragem, a parte final do n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento Harmonizado não devia conter remissão expressa para a delimitação negativa do conceito de “litígio de consumo” operada pelo n.º 2 do artigo 2.º da Lei RAL. Até porque, afora a solução normativa da sua alínea b), grande parte dos litígios abarcados pelas alíneas a) a c) do mesmo número, artigo e diploma legal revestem a natureza de relações jurídico-administrativas e, como tal, encontram-se, por natureza, excluídos da competência em razão da matéria do Centro.
Por sua vez, a tramitação do processo de arbitragem, disciplinada, em particular, pelo artigo 14.º do Regulamento Harmonizado, carece, a nosso ver, de uma regulação mais aturada, que promova e concretize plenamente os princípios do processo equitativo (artigo 12.º, n.º 1 da Lei RAL), nos seus corolários de igualdade e de defesa e contraditório.
Neste sentido, pugnamos pela eliminação da possibilidade de apresentação de contestação oral na própria audiência arbitral – para a qual as partes devem ser convocadas com uma antecedência mínima de 20 dias –, estabelecendo-se, em alternativa, que a parte reclamada pode apresentar contestação escrita até 10 dias da data marcada para a audiência. Desta forma, obstar-se-ia a que o reclamante, que surge, não raras vezes, desacompanhado de advogado ou solicitador a representá-lo em juízo (em virtude da diminuta utilidade económica do pedido formulado no processo arbitral, que fica aquém do previsível valor dos honorários devidos ao profissional forense, cuja contratação para assegurar patrocínio judiciário não é, além do mais, obrigatória – cf. artigo 10.º, n.º 2 da Lei RAL), só conheça a posição assumida pela reclamada, nos autos de arbitragem, naquela diligência.
Os mesmos princípios fundamentais do processo arbitral (artigo 30.º, n.º 1 da Lei da Arbitragem Voluntária – LAV) e, bem assim, o princípio da celeridade processual, que é timbre da arbitragem, levam-nos a defender que, por imposição regulamentar, a apresentação da contestação devia ser, de imediato, notificada à parte reclamante, a qual devia poder apresentar resposta ou réplica, por escrito, até à data da audiência ou oralmente na própria audiência (ditando para ata, se se sentir mais confortável com tal alternativa), caso a parte reclamada deduza defesa por exceção ou reconvenção, respetivamente. Desta forma, afastar-se-ia a necessidade de suspensão da audiência arbitral para o demandante gozar do necessário tempo de reflexão e de análise para se poder pronunciar sobre a matéria de defesa por exceção ou de reconvenção deduzida na contestação.
Idênticas preocupações de economia processual e de meios justificam que se imponha às partes a apresentação de toda a prova documental disponível (i.e., de que as partes já disponham) – e de que pretendam fazer uso – com a reclamação e a contestação, assim como fundamentam a previsão expressa da possibilidade de realização da audiência arbitral com recurso a meios de comunicação à distância adequados, nomeadamente videoconferência, como já sucede com o Regulamento do CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo. Ressalva-se, quanto a este último aspeto, que deve privilegiar-se, sempre que possível, a colaboração, para o efeito, de centro/serviço/núcleo de informação autárquica ao consumidor, julgado de paz, tribunal estadual ou outra instituição instalada em edifício público da área do domicílio do sujeito ou interveniente processual.
A fim de se superar a divergência de entendimentos quanto à admissibilidade da reconvenção (aplicando-se ou não, supletivamente, a norma do n.º 4 do artigo 33.º da LAV), sem prejuízo da unidirecionalidade dos litígios de consumo (cf. artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, alínea d) da Lei RAL), cremos que o princípio da eficiência processual aponta no sentido de que a mesma deve ser aceite. Na verdade, a improcedência de pedido de declaração de inexistência de dívida (em ação de simples apreciação negativa), em arbitragem iniciada pelo consumidor, não se consubstancia em sentença condenatória que possa ser executada, de imediato, pelo profissional (cf. artigo 703.º, n.º 1, alínea a) do CPC), obrigando este último a propor nova ação (ou iniciar procedimento de injunção) para obtenção de título executivo. Por último, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26.11.2015, proferido no Processo n.º 538/13.0YRLSB.S1, Relator: Fernanda Isabel Pereira, e pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 28.06.2019, proferido no Processo n.º 1957/18.0YRLSB.C1, Relator: Arlindo Oliveira, entendemos que a norma do Regulamento Harmonizado relativa à responsabilidade pelas despesas com meios de prova requeridos em audiência arbitral devia conter uma remissão expressa para a solução normativa da segunda parte do n.º 5 do artigo 42.º da LAV – possibilidade de o árbitro decidir que alguma(s) das partes compense(m) a outra(s) pela totalidade ou parte dos custos e despesas razoáveis que esta(s) última(s) demonstre(m) ter suportado por causa da sua intervenção na arbitragem –, dissipando quaisquer dúvidas quanto à inaplicabilidade das normas do Código de Processo Civil e do Regulamento das Custas Processuais referentes a encargos com o processo de arbitragem, porque incompatíveis com a regulamentação própria dos litígios arbitrais.